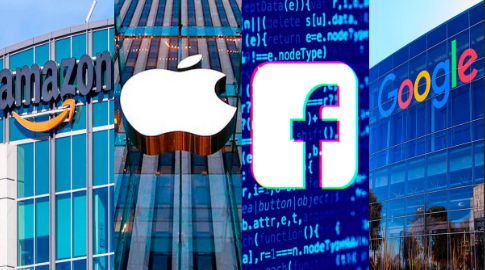Concordo com Ian Bremmer, fundador e CEO do Eurasia Group, famosa consultoria em análise de risco político, e Robert Gates, secretário da Defesa nas administrações dos ex-presidentes George W. Bush (Republicano) e Barack H. Obama (Democrata), quando criticam a atual disfuncionalidade do sistema político norte-americano e se preocupam com às consequências perigosas do presente grau inédito de polarização doméstica para a segurança dos Estados Unidos e seus aliados.
Recente pesquisa nacional do Centro de Política da Universidade da Virgínia, liderado pelo professor Larry Sabato, contribui para agravar esses temores. Realizado entre 25 de agosto e 11 de setembro últimos, entrevistando amostra nacional de eleitores registrados como Democratas, Republicanos ou Independentes desde 2008, o survey apontou tendências perturbadoras na opinião pública americana. Se a eleição de novembro de 2024 fosse antecipada para hoje, 52% dos respondentes escolheriam reeleger Joe Biden; e 48% iriam de Donald Trump.
Quanto às preferências partidárias, 44% dos entrevistados se definem como Democratas; 38% como Republicanos; e 18% como Independentes. Dos autodeclarados Democratas, 88% expressam intenção de reeleger Biden; 90% dos autodeclarados Republicanos querem a volta de Trump à Casa Branca; enquanto os autodeclarados Independentes dividem-se quase igualmente entre o segundo (51%) e o primeiro (49%).
Questões econômicas: dos 34% dos entrevistados que se autorrotulam como Progressistas (esquerda), 80% pretendem votar em Biden; entre os 42% dos autodefinidos Conservadores, 76% cravarão Trump; e dos 25% que se dizem Moderados, 60% ficam com Biden e 40% com Trump.
Questões sociais: 78% dos respondentes que se declaram Conservadores preferem Trump nesse quesito; e 82% dos que se declaram Progressistas preferem Biden. Entre os que se definem como Moderados no campo social, 54% preferem Biden e 45% preferem Trump.
Agora vêm os resultados mais ‘preocupantes’ da pesquisa para o futuro da democracia na América. Para 41% dos eleitores de Trump e 30% dos eleitores de Biden consideram que a discórdia no país é tão aguda que apoiariam a separação (secessão) entre estados “vermelhos” (maioria Republicana) e “azuis” (maioria Democrata).
Dos eleitores de Trump, 31% já não creem que a democracia seja um sistema viável e aceitam experimentar formas de governo alternativas. A opinião é compartilhada, ‘pelo avesso’, por 24% dos eleitores de Biden.
Amplos 70% dos que pretendem reeleger o presidente Democrata no ano que vem receiam que uma vitória Republicana resulte em dano duradouro para a república; 68% dos eleitores de Trump alimentam os mesmos na hipótese de uma vitória Democrata.
Fatia robusta do eleitorado de Biden (41%) julga que quem apoia o Partido Republicano e sua ideologia tenha se tornado tão extremista a ponto de que isso justificaria o uso da violência para impedir o G.O.P. de alcançar seus objetivos; 38% dos eleitores de Trump pensam o mesmo a respeito dos Democratas.
Os Estados Unidos estão vivendo sob o signo do identitarismo partidário: 40% dos eleitores de Biden admitem que os valores e crenças políticos formam parte significativa de sua identidade e considera que votar “no outro partido” é ser desleal. E 39% dos eleitores de Trump nutrem as mesmas atitudes em relação aos Democratas.
De acordo com 31% dos eleitores de Trump, os fins justificam os meios e qualquer ação do Partido Democrata será aceitável desde que sirva para atingir os objetivos partidários — atitude compartilhada por 21% do eleitorado trumpista.
Parruda parcela dos eleitores de Biden concorda com o emprego de meios não democráticos para a consecução das seguintes metas ‘progressistas’: restrição/proibição de armas de fogo (74%); programas obrigatórios pró-diversidade em todas as empresas (69%); redistribuição da riqueza para combater as desigualdades de renda (56%); regulação/restrição de manifestação de pontos de vista considerados discriminatórios ou ofensivos (47%); limitação de certos direitos, como liberdade de expressão para proteger os sentimentos e a segurança de grupos marginalizados (31%).
Muitos eleitores de Trump também topam contornar normas democráticas a fim de prestigiar objetivos conservadores: introdução de leis exigindo respeito aos símbolos e líderes nacionais (50%); repressão a protestos e demonstrações que o governo considere ameaçadores da ordem pública (45); autoridade do presidente para desconsiderar decisões do Congresso na área de segurança nacional (37%); restrições à expressão de opiniões consideradas antipatrióticas (37%).
Os temas ‘quentes’ da imigração e da educação evidenciam ainda mais esse abismo político-ideológico: 78% dos entrevistados pró-Biden consideram necessário reformar as leis de imigração a fim de atender às necessidades dos imigrantes ilegais e contribuir para enriquecer a diversidade social da América (contra 58% dos respondentes pró-Trump), enquanto 70% dos eleitores de Trump — e 32% dos de Biden — apoiam a adoção de leis que limitem o acesso dos imigrantes ilegais ao perca-os de trabalho e aos benefícios sociais da educação, da saúde e da seguridade. De outra parte, dos entrevistados pró-Biden sugerem que o currículo escolar enfatize injustiças sistêmicas e outros aspectos negativos da história dos Estados Unidos (contra 55% dos respondentes pró-Trump). Ao mesmo tempo, esse eleitorado trumpista acredita que as escolas públicas devem ser obrigadas a ministrar educação cívica e enfatizar o patriotismo, sem conferir destaque a aspectos negativos da história nacional (contra 28% do eleitorado de Biden).
Por último, mas não em último, o relatório da pesquisa revela que os eleitores continuam profundamente divididos em suas opiniões quanto ao resultado da disputa presidencial de 2020: 56% dos eleitores de Trump, mas 23% dos de Biden, creem que foi o Republicano que venceu aquele pleito e que a presidência lhe foi roubada por meio de fraude e manipulação do sistema eleitoral. Já 88% dos eleitores de Biden creem que aquela eleição presidencialí foi segura, livre de fraudes e que o candidato Democrata colheu uma vitória inequívoca, em contraste com os parcos 4% dos eleitores de Trump que compartilham essa confiança.
Ninguém se entende em Washington, D.C.
Numa democracia representativa é inevitável que esses antagonismos socioculturais se reflitam no sistema político. E uma das principais consequências dessa discórdia doméstica é o colapso do famoso consenso bipartidário que sustentou a estratégia de containment durante a Guerra Fria e permitiu que os Estados Unidos dela emergissem vitoriosos sem disparar um tiro contra a extinta União Soviética.
No Capitólio, paralelamente à cada vez mais acesa rivalidade entre Democratas e Republicanos, a polarização agora contamina a vida intrapartidária. Os Republicanos estão divididos entre uma ala moderada, de centro-direita, disposta a negociar com o partido adversário medidas emergenciais que impeçam o ‘apagão’ dos serviços públicos, é uma facção de direita radical — o Freedom Caucus (“Bancada da Liberdade”) —, reduto do trumpismo-raiz, que rechaça qualquer concessão aos oponentes, agora encarados, pura e simplesmente, como inimigos, no que são reciprocados pela esquerda Democrata. Nas últimas semanas, a política americana foi sacudida pela destituição do deputado Republicano da Califórnia Kevin McCarthy do cargo de speaker (presidente) da Câmara dos Representantes pelos seus correligionários, líderes do Freedom Caucus. Antes, para chegar à speakership, McCarthy atravessara uma maratona de 12 turnos de votação até ser escolhido pela bancada Republicana (na Casa, o G.O.P. detém apertada maioria de 221 contra 212). O preço daquela precária e efêmera vitória de McCarthy fora sua concordância com uma esquisita cláusula regimental, que permitiria a qualquer deputado reivindicar e automaticamente obter a destituição do speaker. Meses depois, ele cairia vítima desse ‘acordo’. Depois de exaustivas barganhas e ruidosas disputas internas, o deputado Mike Johnson (Republicano da Louisiana) conquistou afinal a presidência da Câmara, com aprovação unânime dos correligionários e nenhum voto Democrata. Johnson apoia as denúncias de que o pleito presidencial de 2020 foi fraudado de modo a derrotar Trump e é contra o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo, mas como observa Bremmer, do Eurasia Group, revela um perfil centrista na maioria das votações nominais, a exemplo de seu antecessor e também do líder Republicano Steve Scalise (também da Louisiana), rejeitado nessa disputa pela speakership. Bremmer acredita que com esse perfil de Johnson a política na Câmara poderá se reaproximar de algo parecido com a normalidade. Mas, por quanto tempo?…
É óbvio que a atual conflitividade tóxica da política doméstica compromete a credibilidade dos Estados Unidos perante os seus aliados. A discórdia no Congresso e as disputas entre a oposição Republicana e a administração Biden emperram o processo orçamentário, o que prejudica a continuidade e a previsibilidade indispensáveis a projetos militares com longo prazo de maturação. Como adverte Gates em artigo para a edição de novembro/dezembro de 2023 de Foreign Affairs, os principais adversários da América — China, Rússia, Irã e Coreia do Norte — caminham céleres para somar um arsenal nuclear equivalente ao dobro do americano, ao mesmo tempo que promovem uma escalada de agressões no ciberespaço e no front da desinformação (fake news) contra o Ocidente.
Na imensidão eurasiática, Vladimir Putin sonha restaurar, a ferro e fogo, o arrogante poderio soviético, e Xi Jinping, o mais poderoso governante chinês desde Mao Tsé-tung, proclama, alto e bom som, seu projeto de reescrever numa perspectiva sinocêntrica — e autoritária — as regras liberais da economia mundial, edificada sobre os alicerces da hegemonia dos Estados Unidos em seguida ao fim da Segunda Guerra Mundial. Ora, o novo desígnio imperial chinês se traduz em desprezo por princípios e valores caros à tradição do Ocidente, como direitos humanos, liberdade de informação/expressão e periódica e livre competição eleitoral pluripartidária sob a égide do estado de direito.
Essa emergente rivalidade internacional aumenta os riscos de uma conflagração em larga escala, ameaçando a segurança dos Estados Unidos e seus aliados em pontos sensíveis do planeta como o Oriente Médio (Israel contra o terrorismo ‘por procuração’ iraniano executado por organizações terroristas como o Hamas e o Hezbollah), a Europa oriental (guerra que se arrasta na Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro do ano passado), o Mar do Sul da China (Pequim reivindica soberania sobre quase toda essa importante via marítima, na qual circula a maior parte das riquezas produzidas no planeta) e o Estreito de Taiwan (o Partido Comunista da China considera a ilha uma “província rebelde”, e o Exército de Libertação Popular tem intensificado suas manobras aeronavais ofensivas para que não reste dúvida quanto à promessa chinesa de anexá-la, por bem ou por mal, e aparentemente a curto prazo).
Diante tantas incertezas, fica no ar a dúvida angustiante: sem coesão doméstica, conseguirão os Estados Unidos granjear a confiante solidariedade dos seus aliados na missão de conter a emergente ameaça da coalizão das potências ‘revisionistas’?